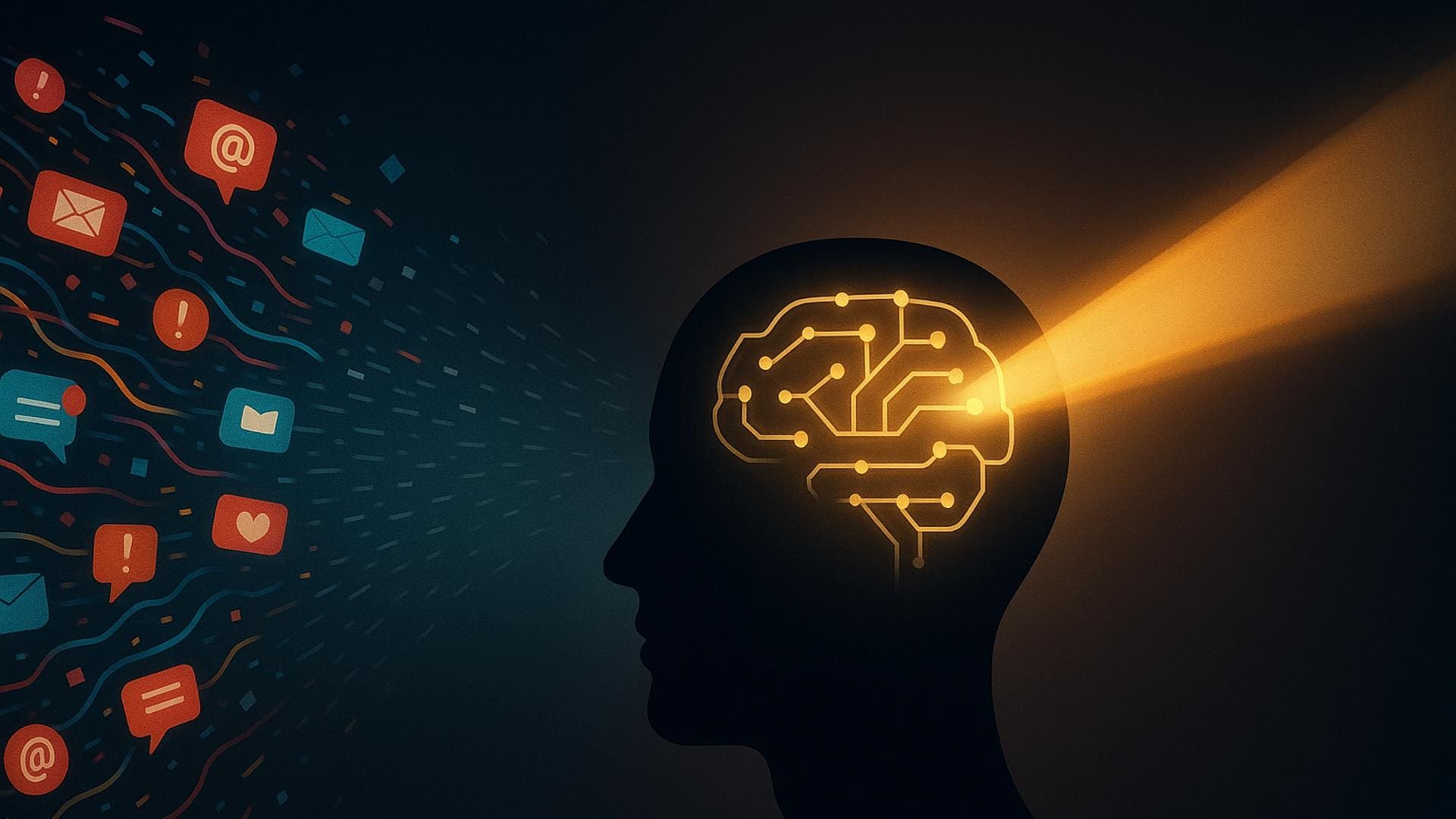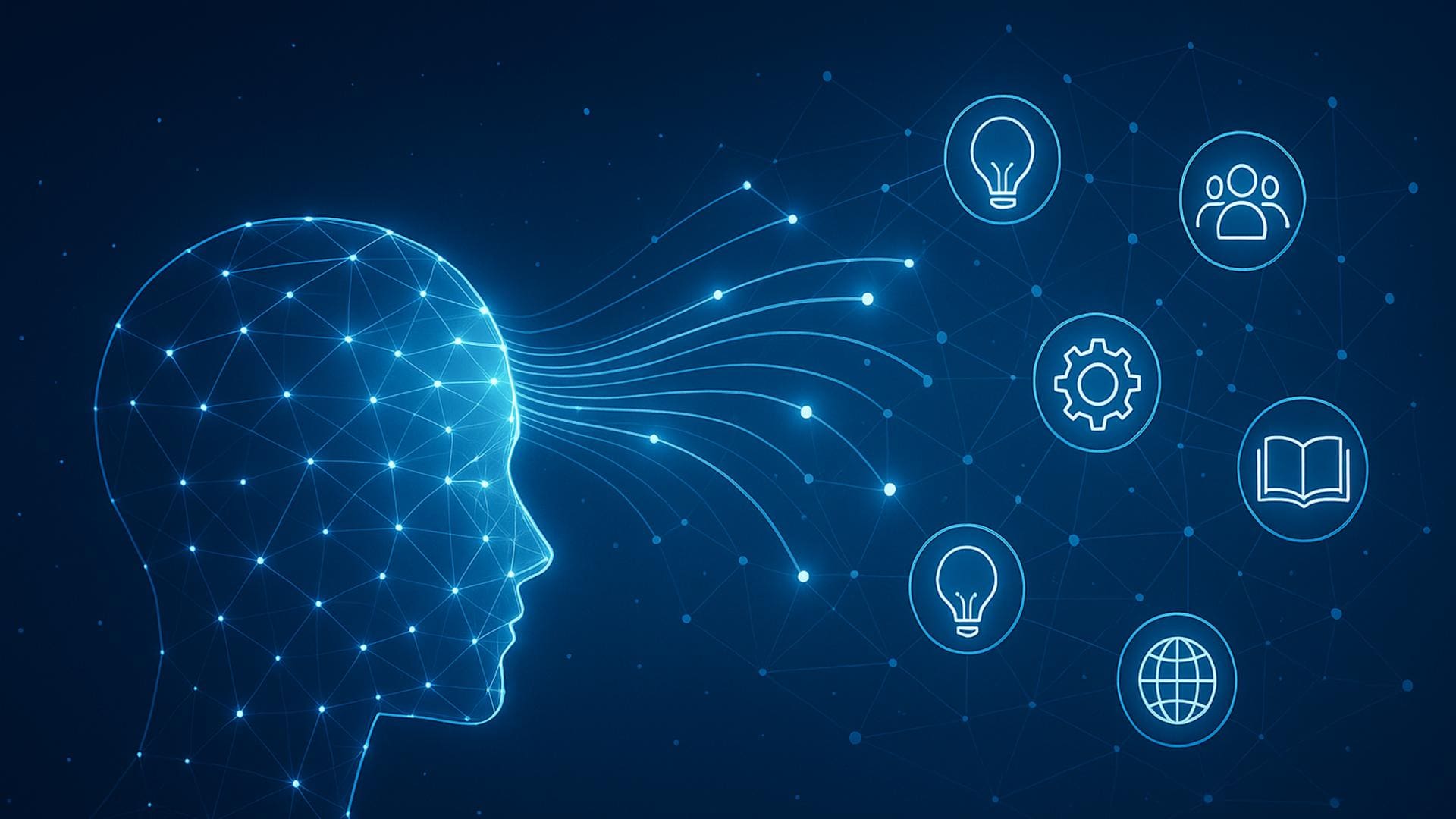Ao longo desta série, revisitamos a experiência provocadora de Joseph Jacotot — o educador francês que, sem falar a língua de seus alunos, os ajudou a aprender francês sem jamais lhes explicar nada. Um gesto aparentemente absurdo, mas que revelou algo profundo: a inteligência de aprender não depende da explicação, mas da vontade. Não do método, mas da liberdade. Não do mestre, mas do movimento do próprio aprendiz.
No primeiro post, Aprendizagem Autodirigida: Fundamentos e Evidências Científicas, exploramos como a ciência cognitiva e a psicologia educacional vêm confirmando o que Jacotot já intuía: o aprendizado real nasce do engajamento ativo do sujeito. Em seguida, em A Vontade de Aprender: O Papel da Motivação na Educação, examinamos como a motivação é o motor indispensável do saber — sem ela, nem a inteligência mais brilhante se mobiliza. No terceiro post, Aprendizagem Humana e Inteligência Artificial: Paradoxos e Convergências, colocamos essa discussão em contraste com a ascensão da IA e seu modelo de aprendizado sem consciência, sem desejo, sem sentido.
Mas talvez a pergunta mais simples — e mais urgente — ainda não tenha sido feita: onde esse tipo de aprendizado acontece, hoje, na vida real?
A resposta pode não estar nos laboratórios, nem nas escolas tradicionais, nem nos sistemas educacionais baseados em provas e planos de aula. Pode estar onde poucos olham com atenção — nos territórios da educação não formal.
Ali, nas margens do sistema, acontecem todos os dias pequenas revoluções silenciosas: jovens que aprendem liderança em um grupo escoteiro, mulheres que se alfabetizam juntas em projetos comunitários, trabalhadores que dominam novas tecnologias por conta própria, coletivos que produzem conhecimento em redes. Não há currículo obrigatório. Não há prova final. Mas há um impulso muito parecido com aquele que moveu os estudantes flamengos de Jacotot: o desejo de compreender, de transformar, de fazer sentido do mundo.
Este post é um mergulho nesse território. Não para romantizá-lo, mas para reconhecer que, se quisermos falar com seriedade sobre aprendizagem autodirigida, precisamos olhar para quem já a pratica — com poucos recursos, pouca visibilidade, mas com uma confiança inabalável na inteligência do outro.
Educação Não Formal: Onde a Autodireção é Regra, Não Exceção
A educação não formal é, quase sempre, aquilo que a educação formal não consegue — ou não se permite — ser: aberta, responsiva, motivada pelo contexto e guiada por quem aprende. Trata-se de um campo vasto e heterogêneo, onde o ensino não se dá por obrigação institucional, mas por iniciativa, afeto, necessidade e desejo. Movimentos comunitários, escotismo, coletivos culturais, ONGs, centros de juventude, espaços maker, redes de aprendizagem entre pares — todos esses ambientes operam sob lógicas distintas da escola tradicional, ainda que muitas vezes atuem com igual ou maior impacto formativo.
E é curioso perceber como, nesses espaços, a aprendizagem autodirigida não é exceção metodológica — é o próprio alicerce da prática. Não há explicação formalizada. Muitas vezes, não há sequer “aula”. Mas há projeto. Há desafio. Há troca. Há vontade.
Se um jovem aprende a organizar um evento comunitário, desenvolver um aplicativo ou liderar uma patrulha escoteira, ele o faz quase sempre por meio da experimentação, da observação, da tentativa e erro — e, principalmente, do engajamento voluntário. Ele aprende porque tem um motivo claro para aprender. Porque vê propósito. Porque sente que aquilo importa. É o mesmo tipo de movimento que Jacotot identificou nos seus estudantes flamengos: o saber nasce do confronto entre o sujeito e o mundo — e não da mediação constante de um especialista.
Pesquisadores como Colley, Hodkinson e Malcolm (2003), ao investigarem a informalidade nos processos de ensino-aprendizagem, mostram que o que define a educação não formal não é a ausência de intencionalidade, mas a ausência de controle institucional rígido. O que se aprende, quando se aprende e como se aprende é algo construído entre os participantes, e não imposto de fora. Isso gera ambientes mais flexíveis, adaptativos e personalizados — características que a escola tradicional tenta incorporar tardiamente sob o rótulo da “inovação”.
Além disso, a educação não formal tende a tratar o erro não como falha a ser punida, mas como parte legítima do processo de aprender. E isso tem um efeito profundo: cria um ambiente onde a curiosidade é incentivada, onde a dúvida é respeitada e onde a autonomia se desenvolve de forma orgânica. Não é à toa que muitos projetos bem-sucedidos de alfabetização de adultos, capacitação profissional e formação cidadã ocorrem fora dos currículos oficiais — e, paradoxalmente, com mais profundidade.
Enquanto a escola luta para engajar, esses espaços não formais partem do princípio de que, se o sujeito não quiser aprender, nada acontecerá — e, se quiser, nada o impedirá. É uma pedagogia que não se vende como “emancipadora” — mas que, na prática, emancipa. Porque reconhece a inteligência do outro antes mesmo de tentar mediá-la.
O Que Une Jacotot e os Educadores Não Formais
Joseph Jacotot jamais se identificou como um educador popular. Lecionava em uma universidade, pertencia à elite intelectual francesa, e sua experiência mais radical — ensinar sem explicar — surgiu de uma circunstância improvável, não de uma escolha metodológica. E, no entanto, sua trajetória o aproxima de milhares de educadores que, ao longo dos séculos, ensinaram e transformaram sem jamais ter um quadro-negro, um currículo oficial ou um diploma de pedagogia na parede.
A ponte entre Jacotot e esses educadores não está no contexto, mas no gesto. Ambos confiam — ou precisam confiar — na inteligência do outro. Ambos aceitam que a explicação pode ser um obstáculo, não uma solução. Ambos operam sem garantias, sem métodos padronizados, muitas vezes sem legitimidade institucional. E, mesmo assim, aprendem — e ensinam.
Em espaços de educação não formal, é comum que o educador seja menos um instrutor e mais um catalisador. Ele organiza contextos, propõe desafios, escuta, provoca. Não entrega respostas prontas. Não camufla a complexidade. Ele parte do princípio de que o outro pode. E isso, como vimos com Jacotot, é o que define a pedagogia da emancipação: não acreditar que todos sabem, mas afirmar que todos são capazes de saber por si.
Jacques Rancière, ao narrar a experiência de Jacotot em O Mestre Ignorante, insiste que o verdadeiro ato pedagógico não é explicar, mas reconhecer a igualdade de inteligências. Essa igualdade não significa que todos saibam o mesmo, mas que todos possuem a mesma capacidade de compreender, ainda que por caminhos distintos. Ora, o educador não formal parte exatamente desse ponto: ele não tem como prever o percurso de cada aprendiz, nem controla os meios. O que ele tem é o compromisso de não intervir mais do que o necessário — e de não impedir que o outro se mova.
Essa ética aparece com clareza em práticas como o escotismo, os círculos de cultura, os coletivos culturais, os movimentos de alfabetização popular. Nesses contextos, a aprendizagem não é “facilitada” no sentido simplista da palavra. Ela é construída com esforço, com diálogo, com autonomia real. E quando há mediação, ela é horizontal — mais próxima da amizade do que da autoridade.
Jacotot foi, talvez sem saber, um precursor desse modo de educar. Ele criou uma situação extrema, mas que revelou algo essencial: que o verdadeiro papel do educador não é “ensinar tudo”, mas criar as condições para que o outro se descubra capaz de aprender qualquer coisa. E isso, no cotidiano da educação não formal, não é uma teoria — é prática diária.
Invisível, Mas Essencial
Apesar de seu impacto evidente, a educação não formal ainda ocupa um lugar periférico nas políticas públicas, nas universidades e na percepção da sociedade. É tratada como um “apoio”, uma “extensão”, um recurso emergencial para quando a escola falha — nunca como um espaço legítimo de produção de conhecimento, nem como um território autônomo de formação humana. Raras vezes é valorizada como sistema; quase nunca é reconhecida como potência.
Esse descaso pode não ser coincidência. A educação não formal ameaça a hierarquia tradicional do saber. Ela não precisa de diploma para ensinar, nem de currículo para organizar o aprendizado. Ela opera em rede, por afetos, por interesses comuns. Seus saberes são situados, vivos, muitas vezes imprevisíveis. E isso a torna difícil de classificar, de padronizar, de medir. Em um mundo obcecado por certificações e rankings, tudo isso parece… temerário demais.
Mas justamente por não se submeter a essas lógicas, a educação não formal consegue o que a escola muitas vezes não alcança: formar sujeitos autônomos, críticos e engajados. Ela se conecta à vida concreta, aos problemas reais, aos desejos que movem o aprender. Ela não precisa simular relevância — ela é relevante, porque nasce da experiência e da necessidade.
É na educação não formal que muitos aprendem a ler o mundo antes mesmo de ler palavras. Onde crianças lideram grupos, jovens gerenciam projetos, adultos redescobrem a própria voz. É ali que o saber não serve apenas para responder questões escolares, mas para agir no mundo, para criar possibilidades, para resistir.
E, ainda assim, permanece invisível. Invisível porque não cabe nos relatórios, porque não entra nas estatísticas, porque não produz “resultados” no sentido estrito da avaliação institucional. Invisível porque é diversa, mutável, múltipla — e, por isso mesmo, difícil de controlar.
Mas invisível não é sinônimo de irrelevante. Ao contrário: é no invisível que estão alguns dos aprendizados mais profundos e duradouros. E se quisermos resgatar a centralidade da vontade, da autonomia e do sentido no processo educativo, talvez devêssemos começar por olhar com mais seriedade para esses territórios que sempre souberam disso — e nunca precisaram da permissão do sistema para continuar educando.
Conclusão: Reencantar o Ato de Aprender
O que une Joseph Jacotot aos educadores não formais de hoje não é um método, uma teoria ou uma tradição comum. É algo mais simples — e mais revolucionário: a confiança de que toda pessoa é capaz de aprender por si, desde que tenha o direito de tentar. Essa confiança não é uma ingenuidade pedagógica. É um princípio político. Porque confiar na inteligência do outro é reconhecer sua humanidade em plenitude e criar as condições para que ele a exerça.
Na experiência de Jacotot, como nos projetos de educação não formal, não há um mestre que entrega o saber. Há um sujeito que provoca, que desafia, que se retira quando necessário — para que o outro possa se mover. É um gesto de humildade, mas também de coragem. Porque é mais fácil explicar do que acompanhar. Mais fácil dirigir do que abrir espaço. Mais fácil ensinar do que criar as condições para que o outro descubra o que pode.
Mas é justamente nesse espaço aberto que a aprendizagem mais potente acontece. Fora dos muros escolares, longe das métricas e dos protocolos, milhões de pessoas aprendem todos os dias — movidas pela vontade, pela urgência, pelo desejo de transformar a própria vida e o mundo ao redor. É ali que o aprender se reconecta com sua dimensão original: uma resposta humana ao espanto, à necessidade e à possibilidade.
Reencantar o ato de aprender é, antes de tudo, parar de tratá-lo como um processo técnico. É reconhecê-lo como um fenômeno profundamente humano — feito de afeto, de esforço, de liberdade. E talvez seja na educação não formal, com toda a sua invisibilidade e força subterrânea, que esse encantamento resista com mais vitalidade.
Se aprendemos algo com Jacotot, é que não se trata de ensinar mais. Trata-se de confiar mais. E, quem sabe, de reaprender a ver — naquilo que não se mede, não se explica e não se certifica — os verdadeiros sinais de que ainda somos capazes de aprender.
E, no entanto, há algo que não podemos ignorar: ao escrever este texto — ao estruturar, explicar, justificar — estamos nos afastando, em certo sentido, da própria lição que defendemos. É um paradoxo inevitável: explicamos para dizer que a explicação não é necessária. Produzimos teoria para valorizar a prática que resiste à teoria. Talvez essa seja a prova final de que ainda estamos presos à linguagem da legitimidade formal. Mas se, apesar disso, este texto servir para que alguém reconheça no seu próprio caminho a potência de ter aprendido sem permissão — então, talvez, tenhamos sido fiéis a Jacotot. Mesmo com todas as palavras.
Referências
- ESHACH, Haim. Bridging In-school and Out-of-school Learning: Formal, Non-Formal, and Informal Education. Journal of Science Education and Technology, v. 16, n. 2, p. 171–190, 1 abr. 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10956-006-9027-1>. Acesso em: 17 mai. 2025.
- FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. [S.l.]: Paz e Terra, 1996. Disponível em: <https://dn721909.ca.archive.org/0/items/pedagogia-da-autonomia-paulo-freire/Pedagogia-da-Autonomia-Paulo-Freire.pdf>. Acesso em: 17 mai. 2025.
- MATTOON, Mary. The Pregnant Virgin: A Process of Psychological Transformation. Psyccritiques, v. 31, 1 out. 1986. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/247422285_The_Pregnant_Virgin_A_Process_of_Psychological_Transformation>. Acesso em: 17 mai. 2025.
- RANCIÈRE, Jacques. O Mestre Ignorante. Cinco Lições Sobre A Emancipação Intelectual. [S.l.]: Autêntica, 2007. Disponível em: <http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=F8D00759ED8AEF38563CE7A91374671C>. Acesso em: 17 mai. 2025.
- WERQUIN, Patrick. Recognising Non-Formal and Informal Learning. [S.l.]: OECD, 14 abr. 2010. Disponível em: <https://www.oecd.org/en/publications/recognising-non-formal-and-informal-learning_9789264063853-en.html>. Acesso em: 17 mai. 2025.
Este conteúdo foi produzido em parceria com o ChatGPT, uma ferramenta de inteligência artificial generativa da OpenAI.
Imagem de capa gerada pelo Midjourney, uma ferramenta de inteligência artificial generativa da Antrophic.